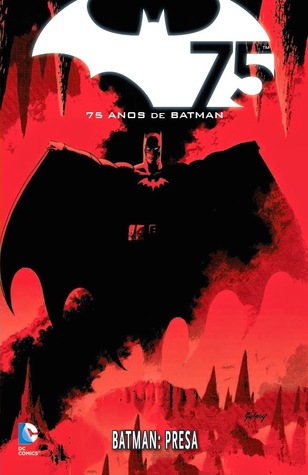De vez em quando fazem-se filmes de coisas idiotas. Umas alminhas lembraram-se de fazer um filme baseado no jogo da batalha naval, por exemplo. Mas além deste tipo de idiotices, as sequelas e prequelas também costumam ser uma das apostas favoritas, num espírito de facilitismo que só convence pessoas com cifrões dos olhos. Ou então fazem-se remakes, algo ainda mais fácil: já existe o guião e até já existe um filme inteiro por onde copiar e guiar o novo filme. Por vezes até se justifica, mas a maior parte das vezes nem por isso.
No entanto, e isto cada vez é menos raro, ou pelo menos cada vez tem mais visibilidade, fazem-se filmes interessantes. Verdadeiramente interessantes. Coisas novas, cativantes, originais e que mesmo não sendo vistosas, são bem feitas. É o caso de uma outra moda que aprecio e que ainda não me desapontou: os biopics, filmes semi-biográficos de grandes figuras ou momentos marcantes da nossa História.
É o caso deste Saving Mr. Banks, cuja premissa não me convenceu. Não tinha grande interesse em ver um filme sobre o filme da Mary Poppins, por muito interessante que essas histórias de bastidores normalmente sejam. Mas a sinopse já teve outro efeito. Foi aí que percebi que isto não era uma mera história sobre a história, mas sim a história da autora do livro em que o filme se baseia, P.L.Travers (interpretada por Emma Thompson), uma mulher com uma infância difícil e uma personalidade complicada.
Só que o filme não fica por aí. O foco, aliás, até está na luta que esta trava com Walt Disney (interpretado por Tom Hanks) relativamente ao filme. Ele quer mais um sucesso, com a animação que já é a sua imagem de marca, capaz de agradar ao todos os públicos de uma forma simples e directa. Ela recusa vender a sua história a não ser que sigam as suas indicações muito específicas e exaustivas.
No fundo é uma luta de ideais entre Disney, o homem com uma criança dentro de si, e Travers, a mulher que deixou de ser criança muito cedo. Um obriga toda a gente a tratá-lo pelo primeiro nome, e incentiva um ambiente de trabalho bastante informal, e a outra é extremamente britânica e insiste que o seu nome é Mrs. Travers.
Disney é expansivo, brincalhão, afável, sonhador e idealista; Travers é ríspida, séria, antipática e nostálgica. Era difícil encontrar duas personagens mais contrastantes, ambas bem representadas, embora Tom Hanks não me convença muito e Emma Thompson demonstre, mais uma vez, a sua enorme capacidade.
O filme é entrecortado e contado em dois tempos diferentes. De um lado Mrs. Travers tenta criar um filme que lhe agrade, indo frequentemente contra as directivas do próprio Walt Disney, para desespero da equipa de criativos responsáveis pelo guião e pela música. Do outro a história de infância de Travers na Austrália.
É essa segunda história que dá relevância à primeira, ao mostrar o pai bêbedo mas preocupado, constantemente deitado abaixo pelas agruras da vida e que recorre à bebida para se refugiar, muitas vezes em sacrifício da sua vida familiar. Quem sofre é principalmente a sua mulher, já que as três filhas, além de muita amadas, são demasiado novas para perceber. Só a futura Mrs. Travers é que começa também a partilhar a responsabilidade com a mãe, quando se apercebe da necessidade que o pai tem de beber álcool.
Quando tudo corre mal, chamam a tia, rígida mas carinhosa, a única pessoa capaz de pôr ordem naquela casa. É assim, com os pedaços certos de história a aparecerem nos sítios certos no meio da história principal, que ficamos a perceber que algumas das manias de Mrs. Travers têm causas fortes com raízes na sua infância. Assim como muitos dos seus maneirismos e peculiaridades, bem como a insistência em controlar cada detalhe do filme.
Na realidade, o livro não é apenas uma história infantil, é em parte a sua própria história, reescrita para honrar o seu pai, de quem tanto gostou e que nunca foi propriamente cruel, nem negligente, mas sim irresponsável, por ser demasiado sonhador.
Esse é o dilema que Disney e os seus colaboradores parecem não perceber, o que muito exaspera a autora. Só com o passar do tempo, e com muito esforço de toda a gente, é que lentamente a vão conseguindo convencer de que aquele filme é uma boa ideia. Ao mesmo tempo, a história secundária que nos é mostrada explica a origem de todas as inseguranças reprimidas de Travers, e que tantas barreiras impuseram sobre as suas decisões.
No fim percebemos tanto um lado como o outro, e é difícil não simpatizar com todas as personagens. Outra personagem notável é o motorista que leva a autora todas as manhãs para os estúdios e todas as noites de volta ao hotel, Ralph (interpretado por Paul Giamatti), que se torna no seu amigo improvável. A sinceridade com que fala com ela é incrível.
Mas não fiquem a pensar que é um filme lamechas, antes pelo contrário! Isto é praticamente uma comédia, pontuada de momentos dramáticos, mas que servem sempre para fazer a história avançar ou para evoluir as personagens, e nunca em vão. A maior parte desta comédia vem do embate da personalidade peculiar e estereotipicamente britânica da autora com as americanices e criancices de Disney e companhia, e é espectacular. Por vezes subtil, por vezes mais óbvio, mas sempre bom.
Ah, e não posso terminar sem uma nota final para Colin Farrel, que interpreta o pai da autora durante a sua infância na Austrália, e que realmente consegue o equilíbrio perfeito entre adulto irresponsável e pai sonhador.
Um filme que vale a pena ver, sem dúvida, e que não só é relevante por si só como dá uma nova relevância à Mary Poppins.